1. CONHECENDO O BÁSICO
Primeiro, um alerta
Começamos essa aula com um alerta: essa não é uma aula de Direito Administrativo “puro”. Ela mistura conceitos de Direito Administrativo, Direito Financeiro, de Direito Comercial e, talvez, de Direito Econômico. Como me disse uma vez o Professor Luís Fernando Massonetto, meu orientador de doutorado, “o fenômeno jurídico não se manifesta em caixinhas”. (Eu repeti isso muitas vezes depois e ainda repito.) Os fatos da vida real não se manifestam circunscritos à matéria do Direito Administrativo, ou do Direito Civil, ou do Direito Penal. A divisão metodológica ocorre para fins de permitir o desenvolvimento dessas disciplinas e, depois, o ensino de seus conceitos básicos. Creio que, mais tarde, somos convidados ainda na vida acadêmica a combinar os conceitos das diversas disciplinas do direito para analisar os casos reais da nossa realidade complexa.
Isso ocorre com frequência, aliás, no campo que alguns já chamam de “Direito de Infraestrutura”, que nada mais é do que a combinação de arranjos do Direito Administrativo (concessões, parcerias público-privadas, permissões, autorizações), do Direito Empresarial (contratos e instrumentos de garantia) para viabilizar a delegação, financiamento e execução de projetos de infraestrutura.
Por isso essa aula está focada em tópicos fundamentais do Direito Administrativo – concessões de serviço público e interesse público – mas dialogará também com os reflexos da noção de interesse público (ou interesse coletivo, se quisermos) no Direito Comercial e com temas de Direito Financeiro.
Nessa aula, vamos discutir quais são os interesses públicos envolvidos em concessões de serviço público. Queremos refletir sobre as seguintes questões: (i) há um único interesse público a digno de maior proteção no contexto de uma concessão de serviço público em crise? (ii) Esse interesse seria correspondente ao interesse da fazenda pública? (iii) Esse ou esses interesses são passíveis de negociação?
Contexto básico
Essa aula se desenvolve em torno de um caso prático que é o seguinte: imaginemos o cenário de uma concessão de serviço público que tem por objeto a operação de uma rodovia. Considerando-se que se trata de serviço público, estaremos diante de um serviço que não pode ser interrompido e que deve ser oferecido de forma universal, em níveis ao menos razoáveis de qualidade, sendo que a oferta desse serviço não é apenas uma obrigação direta da concessionária, mas, também, de forma indireta, do Estado, na condição de Poder Concedente.
A concessionária, para obter o contrato de concessão, se comprometeu a pagar um certo valor de outorga. Ao assinar o contrato de concessão, assumiu e obrigação de realizar investimentos relevantes na rodovia e precisou levantar recursos para arcar com esses investimentos. Para tanto, emitiu debêntures que foram adquiridas por milhares de investidores pessoa física. As debêntures foram emitidas em uma condição de mercado pouco favorável, fazendo com que os juros do papel fossem significativos.
Logo nos primeiros anos da concessão, foi aprovada uma lei determinando que caminhões que trafegassem pelas rodovias brasileiras não deveriam pagar pedágio quando estivessem trafegando sem carga (ou seja, com seus eixos suspensos), o que gerou um pleito de reequilíbrio econômico-financeiro por parte da concessionária, que contava com essa receita de pedágio quando apresentou sua proposta econômica na licitação. O reequilíbrio levou mais de 24 meses para ser apreciado e pago, criando certa pressão sobre o caixa da concessionária. Em razão dessas pressões financeiras, e também por outros motivos, a concessionária não fez todos os investimentos previstos no contrato de concessão, acumulando este passivo regulatório/contratual junto ao Poder Concedente.
Pressionada pelas obrigações financeiras a adimplir (amortização das debêntures, seguros a serem renovados, dívidas com fornecedores, investimentos a realizar (passivo regulatório), a concessionária acabou ajuizando um pedido de recuperação judicial para tentar reestruturar suas dívidas e seu processamento foi deferido[1].
Ao solicitar a proteção da recuperação judicial, a concessionária pretende que o Estado de São Paulo, assim como outros credores privados, se sujeite aos efeitos da recuperação judicial. Mais especificamente, pretende que (i) débitos decorrentes de imposição de multas contratuais; (ii) desequilíbrios econômico-financeiro do Contrato de Concessão existentes em favor do Poder Concedente; e (iii) obrigações a fazer relacionadas a investimentos sejam incluídos na lista de débitos a serem reestruturados no âmbito do concurso de credores. A concessionária funda o seu pedido de recuperação judicial no princípio da preservação da empresa. Esse princípio tutela a preservação da empresa endividada, mas ainda viável (se forem reestruturadas suas dívidas), de modo a preservar os empregos, a atividade produtiva e a arrecadação de tributos. A recuperação judicial tutela uma outra finalidade de política pública além da preservação da empresa que é o tratamento igualitário dos credores (conforme a classe de cada um). No caso em questão, preservar a empresa significa também preservar a concessão de serviço público, sobretudo se considerarmos que o Estado em geral não dispõe de condições para assumir a concessão.
O Poder Concedente contesta essa inclusão, alegando que não pode estar sujeito à recuperação judicial e que isso seria contrário ao interesse público. Nessa linha de argumentação, a advocacia pública alegou que o Poder Público não pode estar sujeito à negociação de seus créditos (sejam eles de origem tributária ou não) em razão do princípio da indisponibilidade de interesse público.
Importante ter em mente para a discussão que o (i) art. 187 do Código Tributário Nacional (“Código Tributário Nacional”) determina que o crédito tributário não se sujeita a concurso de credores. Ou seja, a não sujeição, pelo CTN, não abarca todos os créditos fiscais, mas apenas os tributários. A Fazenda Pública cobra outros créditos além dos tributários, como multas regulatórias e / ou contratuais, outorgas e preços públicos; e (ii) o art. 6º da Lei nº 11.101/2005 determina que o deferimento da recuperação implica a suspensão das execuções e ações de constrição de bens da recuperanda, mas o parágrafo 7º-B do mesmo dispositivo prevê que essa suspensão não vale para execuções fiscais. Ou seja, a lei inadvertidamente (a meu ver) usa um termo mais amplo que o CTN.
Essa antinomia será objeto de discussão nos tribunais e em alguns casos os julgadores se prenderão a literalidade das leis, sem recorrer a uma análise de mérito do que deve ficar dentro e do que deve ficar fora da recuperação judicial, que é a questão que nos interessa nessa aula.
[1] Esse cenário é inspirado (com alguma simplificação) no contexto da Recuperação Judicial da concessionária Rodovias do Tietê, atuada sob o nº 1005820-93.2019.8.26.0526, com trâmite na 1ª Vara do Foro de Salto – SP. Convidamos aqueles e aquelas que tenham interesse em se aprofundar no tema a examinar os autos eletrônicos do processo, que traz questões jurídicas bastante interessantes.
2. CONECTANDO-SE COM A REALIDADE JURÍDICA E ADMINISTRATIVA
As leituras que abaixo buscam levar os leitores e as leitoras a refletir: o interesse público consiste única e primariamente na arrecadação dos créditos devidos ao Poder Público, em detrimento, por exemplo, da preservação da empresa e da continuidade da concessão, ainda que às custas de algum sacrifício dos créditos devidos à fazenda pública? Há alguma razão para proteger de forma especial os créditos tributários em detrimento de outros créditos fiscais, que não têm finalidade arrecadatória?
POV: o interesse público corresponde necessariamente ao interesse do Estado e a indisponibilidade do interesse público impede qualquer tipo de transação envolvendo créditos públicos – tributários ou não
A Manifestação da Procuradoria Geral do Estado em Agravo de Instrumento nº2031082-83.2021.8.26.0000 foi interposta justamente em face da decisão que determinou a inclusão dos créditos líquidos de multas e reequilíbrios em favor da agência reguladora na Recuperação Judicial nº 1005820-93.2019.8.26.0526:
Manifestação da Procuradoria Geral do Estado em Agravo de Instrumento nº 2031082-83.2021.8.26.0000
“Conforme se verá a seguir, a disposição acerca dos ‘Créditos ARTESP’ no plano de recuperação aprovado em assembleia viola o princípio da indisponibilidade do interesse público, as leis que disciplinam a cobrança do crédito público e o contrato de concessão de serviço público, e a autonomia técnico-administrativa da Agência Reguladora.
(…)
Como descrito acima, o plano de recuperação judicial concedeu um prazo de cinco anos para o início do pagamento de crédito até o valor de 180 milhões de reais, além de conceder um “bônus de adimplência” no caso de pagamento em dia de 40% do saldo restante.
Ocorre que por se tratar de crédito público, não é possível a concessão de tais benefícios à concessionária recuperanda, em razão dos princípios da indisponibilidade do interesse público e da legalidade que regem a atividade do Poder Público.
Em razão da indisponibilidade do interesse público, os órgãos públicos não podem renunciar a direitos e bens do Poder Público livremente, sem previsão legal específica.
Segundo Diógenes Gasparini, ‘não se acham, segundo esse princípio, os bens, direitos interesses e serviços públicos à livre disposição dos órgãos públicos, a quem apenas cabe curá-los, ou do agente público, mero gestor da coisa pública’ (Direito Administrativo.17 ed. São Paulo: Editora Saraiva, pg. 72).
Inclusive consiste em ato de improbidade administrativa deixar de cobrar crédito público, nos termos do art. 10, X, da Lei nº 8.429/923.
Dessa forma, não poderia o plano de recuperação judicial dispor da maneira como fez sobre as condições de pagamento do crédito da ARTESP, que são devidos ao Estado de São Paulo.
As multas por descumprimento contratual devem ser pagas à Fazenda do Estado de São Paulo, como previsto na cláusula contratual 42.44; e os desequilíbrios econômico-financeiros são devidos ao Poder Concedente, isto é, o Estado de São Paulo.
Assim, ainda que a ARTESP entenda que as multas, os desequilíbrios econômico-financeiros e as obrigações de CAPEX não devem ser incluídos como créditos na recuperação judicial, por constituírem crédito público, os ‘créditos ARTESP’ não podem ser objeto de moratória, descontos e parcelamentos, sem previsão legal.
Com efeito, o princípio da legalidade que rege a Administração Pública impõe que descontos, isenções, parcelamentos etc, do crédito público devam ser objeto de lei, não sendo possível a sua concessão mediante acordo.
Portanto, as cláusulas do plano de recuperação judicial referentes ao “Crédito ARTESP” são nulas ao preverem descontos e moratória em instrumento particular, o que é vedado pelo princípio da legalidade.
Destaca-se que o representante da ARTESP votou contra o plano na Assembleia Geral de Credores, justamente diante da impossibilidade de dispor do crédito público como faz o plano.
Por essa razão que o art. 29 da Lei nº 6.830/83 exclui o crédito público inscrito em Dívida Ativa da Recuperação Judicial: ‘A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento’.
Dessa maneira, a lei prevê que o plano de recuperação judicial visa promover a superação da situação de crise econômico-financeira da empresa ao planejar a forma de pagamento das dívidas com os credores privados, sem comprometer a cobrança dos créditos devidos ao Poder Público.
Nesse sentido: ‘(…) o legislador, embora tenha instituído um meio de promover a regularização das empresas em dificuldade, mediante aprovação de um plano que envolva apenas os credores privados (únicos participantes do aludido processo), não o fez às custas dos créditos de natureza fiscal. Dito de outro modo, as sociedades empresárias não podem pagar seus credores privados em detrimento das Fazendas Públicas’ (STJ, AgInt no AgRg no REsp 1525114/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017) (gn).
Assim, no presente caso, não podem os créditos da ARTESP serem negociados como créditos privados, em total violação ao citado princípio da indisponibilidade do interesse público”.
No Acórdão proferido nos autos do AI nº 2031082-83.2021.8.26.0000, o TJ/SP, ao decidir o agravo, optou por uma análise bem formalista, decidindo que o §7º-B da Lei de Recuperação Judicial não havia modificado o art. 187 do CTN a ponto de ampliar o rol de créditos fiscais não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. Os interessados podem consultar a íntegra do acórdão nos autos eletrônicos. O sopesamento entre a proteção da Fazenda Pública e estrito cumprimento do contrato de concessão vis-à-vis a preservação da empresa ficou restrito a dois parágrafos, transcritos a seguir:
Acórdão proferido nos autos do AI nº 2031082-83.2021.8.26.0000
TJSP, Rel. para acórdão Des. Azuma Nishi
(1ª Cam. Reservada de Direito Empresarial, j. 25.10.2023)
“A extraconcursalidade é indiscutível para os créditos de natureza tributária, por disposição expressa de lei, ainda porque prevalece o princípio constitucional da igualdade no tratamento no âmbito tributário, que não poderia ser mitigado pelo processo de insolvência, seja recuperação judicial ou falência.
A questão reside em saber se a exclusão de créditos públicos da recuperação judicial estaria restrita aos créditos de natureza tributária ou se estenderiam a quaisquer créditos detidos por entes públicos, o que poderia impactar duramente ou inviabilizar, por vezes, como no presente caso, a capacidade de reestruturação das dívidas de empresas em crise no âmbito da recuperação prevista na LRF, com vistas a preservação de sua atividade econômica.”
Sobre a preservação (da atividade) da empresa e interesse público, o Parecer assinado pelo Prof. Francisco Satiro, nos autos da RJ nº 1019551-68.2018.8.26.0114 (Concessionária do Aeroporto de Viracopos) propõe uma aproximação entre a preservação da empresa e o interesse público. Transcrevemos abaixo alguns pontos de interesse:
Parecer do Professor Francisco Satiro
O parecer, datado de 14 de junho de 2018, respondia consulta formulada pela Aeroportos Brasil – Viracopos S.A. e pode ser encontrado nos autos eletrônicos da Recuperação Judicial da consulente, autuado sob o nº 1019551-68.2018.8.26.0114, com tramitação perante a 8ª Vara Cível do Foto Central de Campinas -SP“
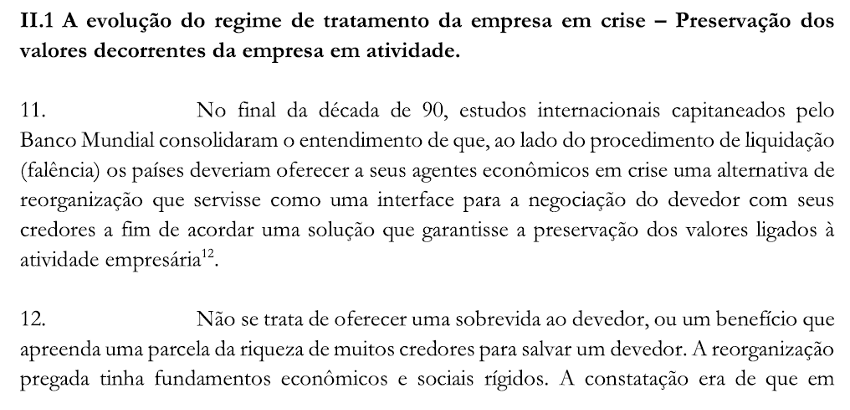
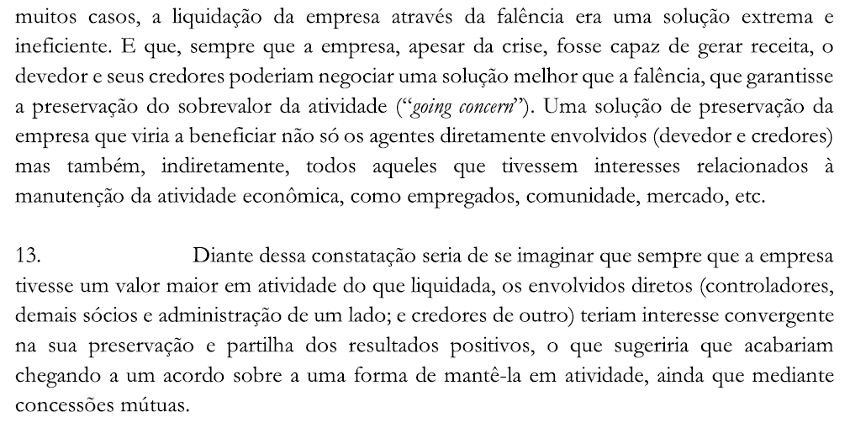
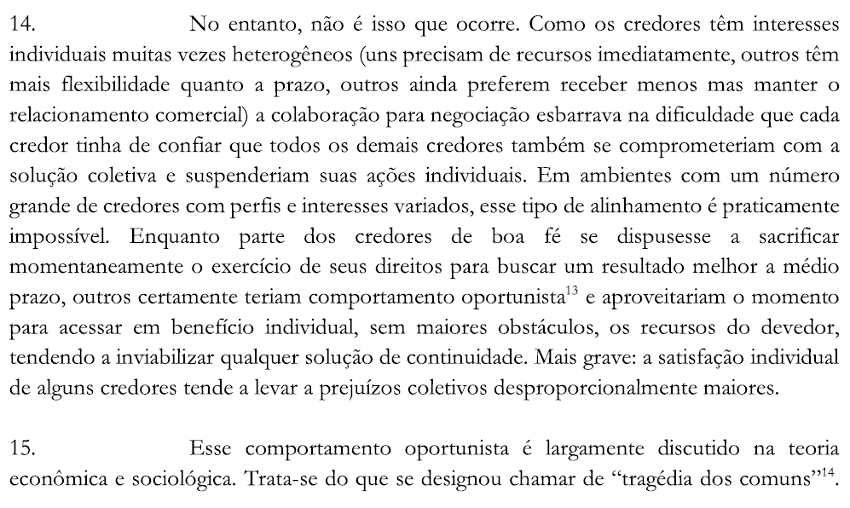
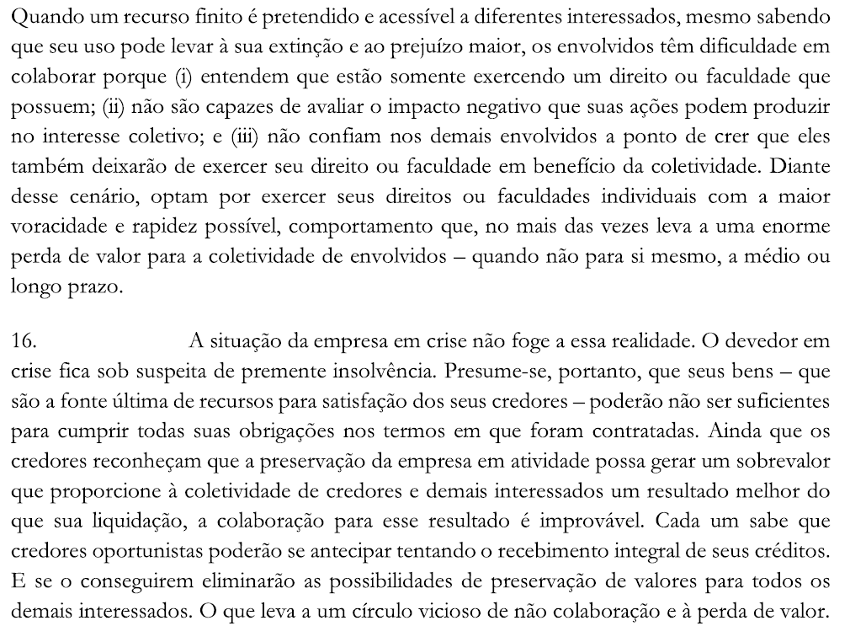
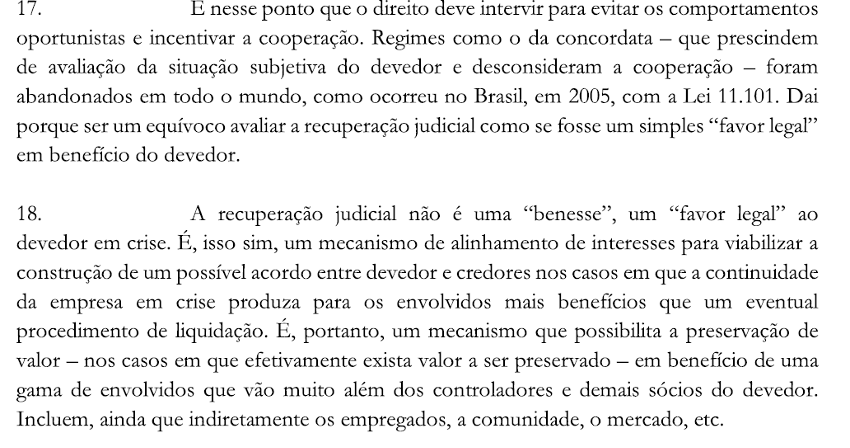
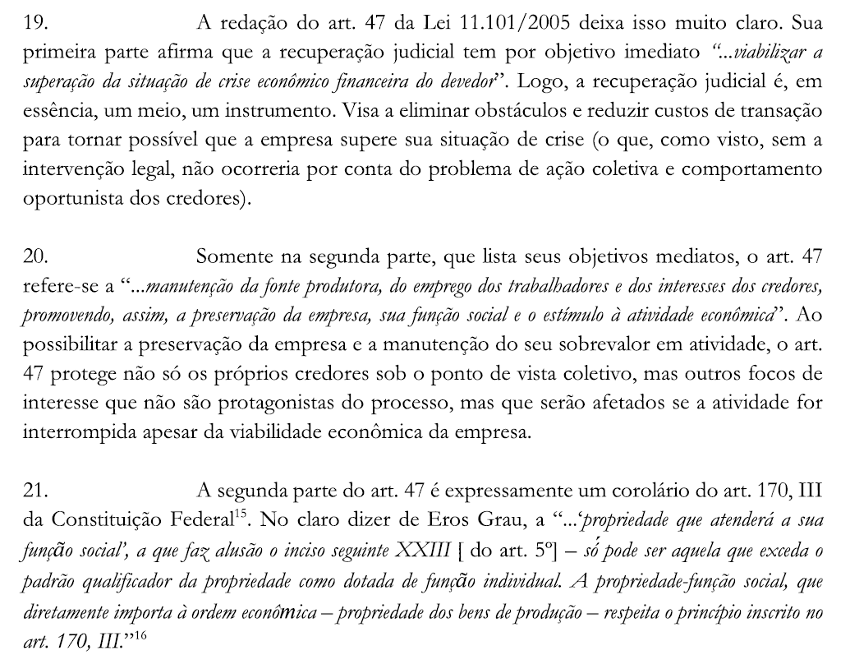
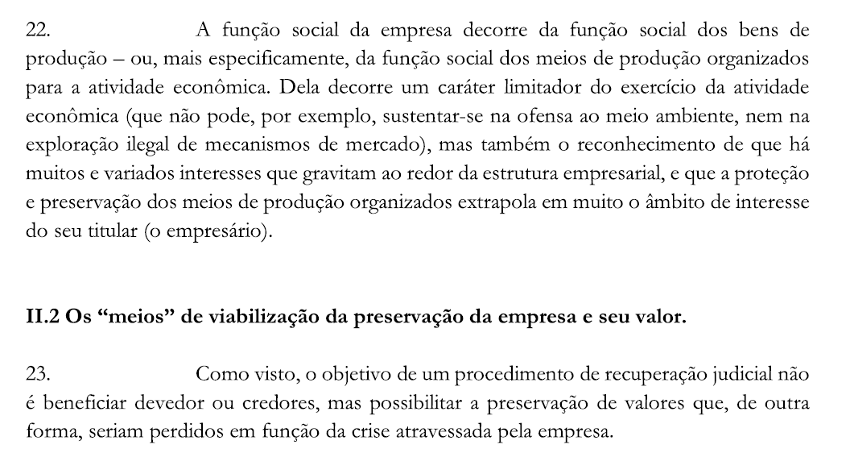
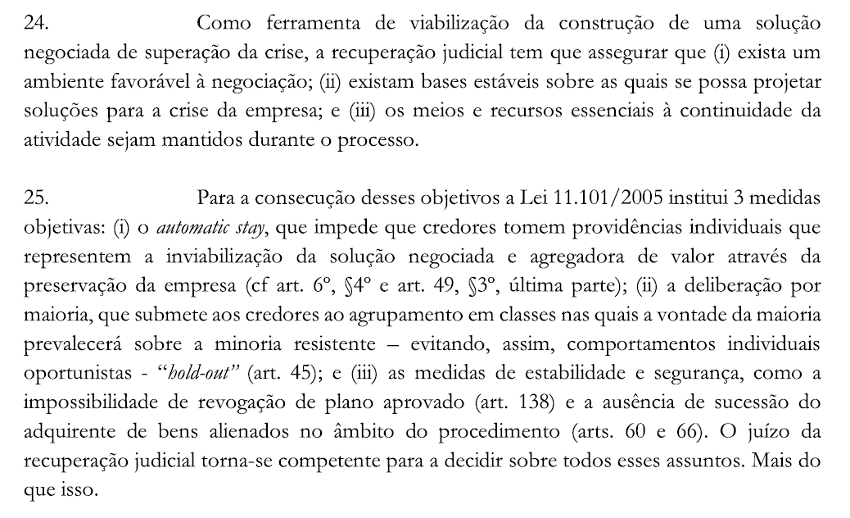
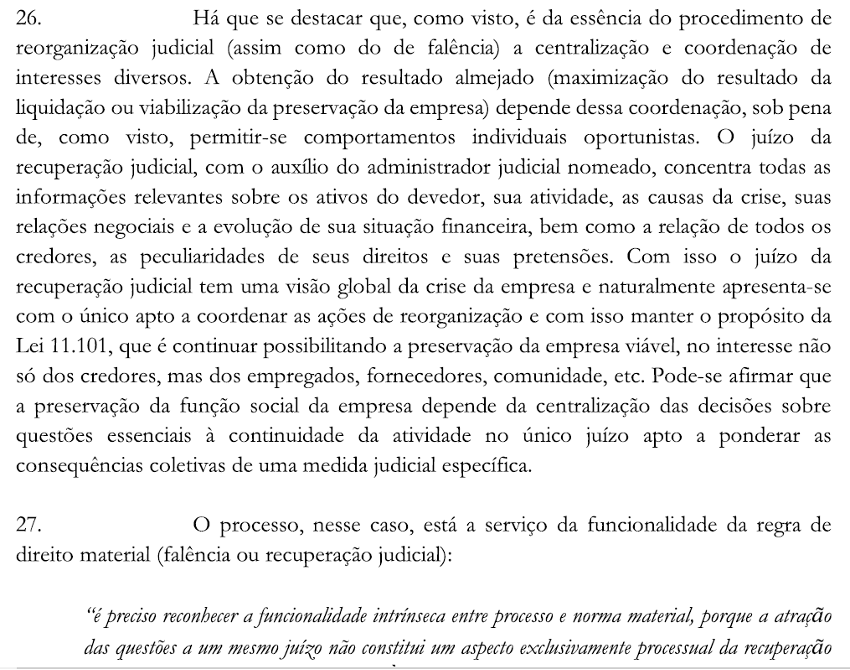
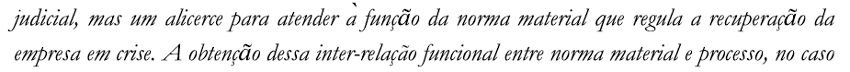
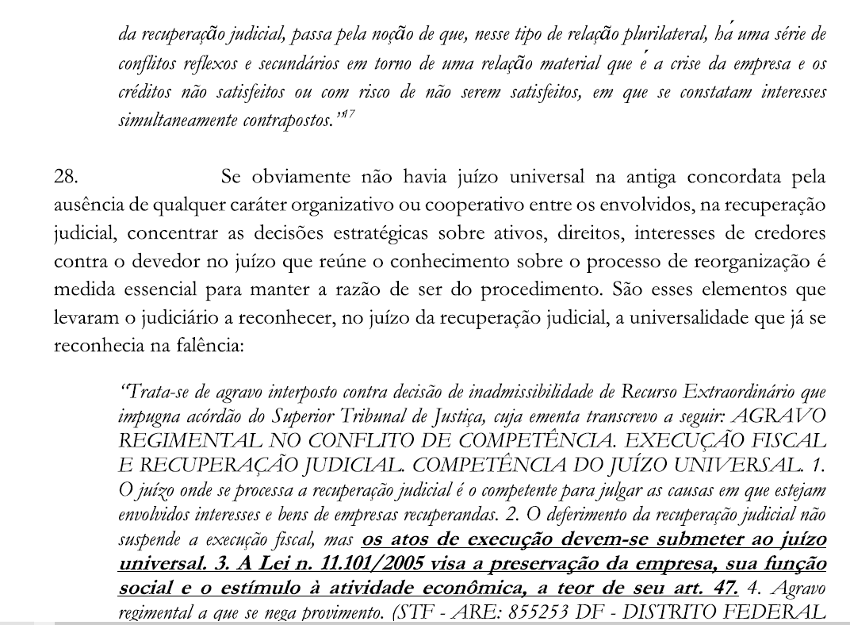
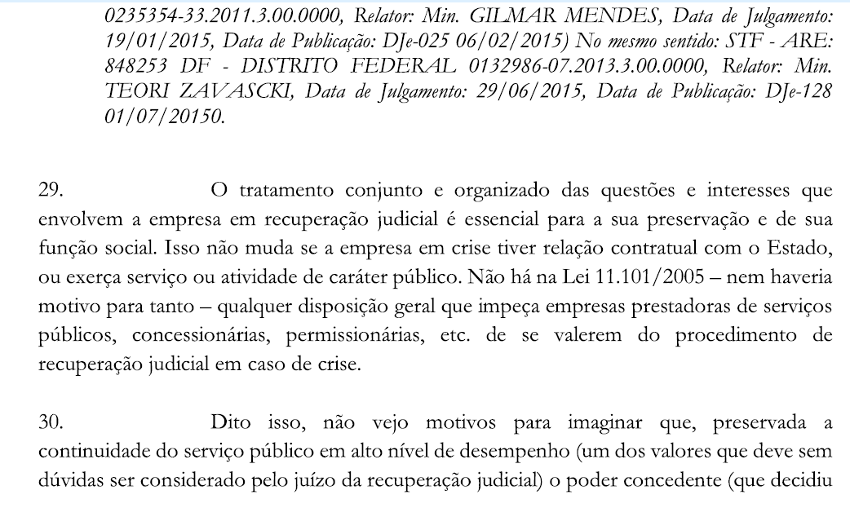
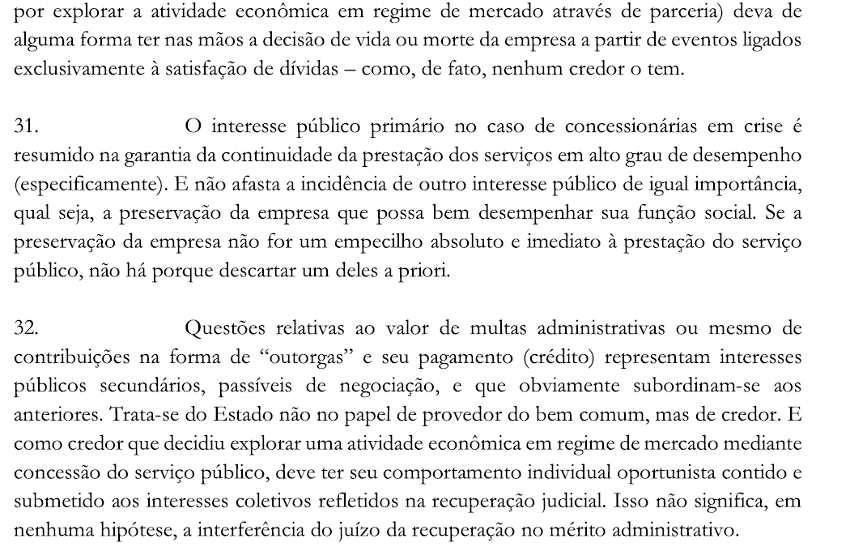
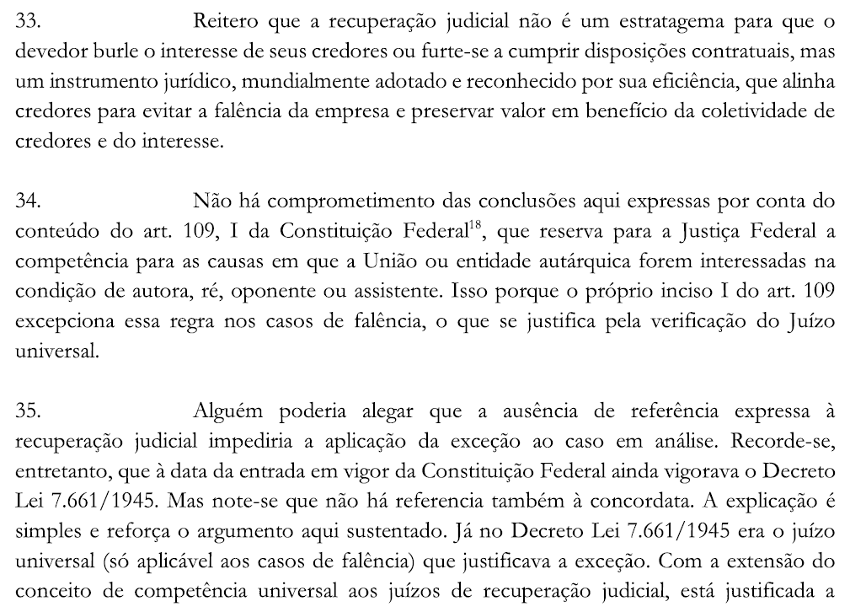
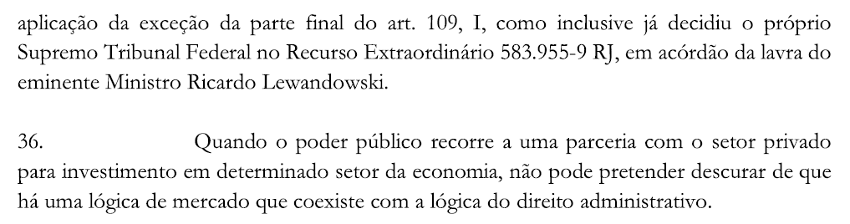
Com relação à dicotomia interesse público primário e interesse público secundário e tendo em vista o uso da expressão “interesse público primário” no parecer acima citado, seria oportuno visitarmos alguns trechos de doutrina que fazem essa diferenciação (que parecer ter origem em Renato Alessi, ainda nos anos 1960…).
Celso Antônio Bandeira de Melo afirma que não se pode definir o interesse público como um interesse concebido de forma autônoma e necessariamente contraposta aos interesses individuais. Para o autor, o interesse público primário seria “o interesse resultante do conjunto de interesses que os indivíduos pessoalmente têm quando considerados em sua qualidade de membros da Sociedade e pelo simples fato de o serem”, correspondendo a uma “faceta coletiva”, dos interesses individuais.[1] Bandeira de Mello afirma que seria “equívoco muito grave supor que o interesse público é exclusivamente um interesse do Estado”, e aponta que os interesses que são particulares ao Estado enquanto pessoa jurídica seriam interesses públicos secundários.
Já Luís Roberto Barroso segue uma outra linha, que diz o seguinte:
Prefácio: o Estado contemporâneo, os direitos fundamentais e a redefinição da supremacia do interesse público
Por Luis Roberto Barroso
(Prefácio: o Estado contemporâneo, os direitos fundamentais e a redefinição da supremacia do interesse público. In: SARMENTO, Daniel (Org.). Interesses públicos versus interesses privados: desconstruindo a supremacia do interesse público. 2. tir. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. viii-xiv.)
“A noção de interesse público, para os fins aqui visados, irá utilizar uma distinção fundamental e pouco explorada, que o divide em primário e secundário. O interesse público primário é a razão de ser do Estado e sintetiza-se nos fins que cabe a ele promover: justiça, segurança e bem-estar social. Estes são os interesses de toda a sociedade. O interesse público secundário é o da pessoa jurídica de direito público que seja parte em uma determinada relação jurídica – quer se trate da União, do Estado-membro, do Município ou de suas autarquias. Em ampla medida, pode ser identificado como o interesse do erário, que é o de maximizar a arrecadação e minimizar as despesas.
Embora não tenha sido objeto de elaboração doutrinária mais densa, conforme registrado acima, essa distinção não é estranha à ordem jurídica brasileira. É dela que decorre, por exemplo, a conformação constitucional das esferas de atuação do Ministério Público e da Advocacia Pública. Ao primeiro cabe a defesa do interesse público primário; à segunda, a do interesse público secundário. (…)
O interesse público secundário não é, obviamente, desimportante. Observe-se o exemplo do erário. Os recursos financeiros provêm os meios para realização do interesse primário, e não é possível prescindir deles. Sem recursos adequados, o Estado não tem capacidade de promover investimentos sociais nem de prestar de maneira adequada os serviços públicos que lhe tocam. Mas, naturalmente, em nenhuma hipótese será legítimo sacrificar o interesse público secundário. A inversão da prioridade seria patente, e nenhuma lógica razoável poderia sustentá-la”.
O tema ainda abarca a ideia de interesse público como interesse coletivo, não necessariamente contraposto a interesses coincidentes aos de outras partes. Uma derivação dessa teoria ou, talvez, uma nova conformação de distinção pode ser encontrada na obra de Floriano de Azevedo Marques Neto. O autor questiona com maior evidência o princípio da supremacia do interesse público e com isso, o conceito de interesse público sobre o qual se assenta a afirmação deste princípio. Ainda, aponta como razão histórica para esta posição de embate o fato de que a construção do princípio da supremacia do interesse público visa superar o individualismo então vigente, sobre a ideia de que negar interesses privados, sujeitando-os ao bem comum, corresponderia a contemplar o interesse coletivo. Para o autor,
Regulação Estatal e Interesses Públicos
Por Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto
(Regulação estatal e interesses públicos. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 81-82; p. 165 e ss.)
Ao formular o princípio a partir do conceito de supremacia, o paradigma em tela já prenuncia a ideia de que o interesse público se contrapõe aos interesses privados, razão por que deverá predominar, prevalecer, superar, sobrepor os interesses privados. Mais ainda, indica que o interesse público se coloca como um ente uno, exclusivo, singular, em cada situação concreta, que rivaliza com os interesses privados, estes necessariamente plurais.
(…)
O princípio da supremacia do interesse público, parece-nos, deve ser aprofundado de modo a adquirir a feição da prevalência dos interesses públicos e desdobrando-se em três subprincípios balizadores da função administrativa: (i) a interdição de atendimento de interesses particularísticos (v.g., aqueles desprovidos de amplitude coletiva, transindividual); (ii) a obrigatoriedade de ponderação de todos os interesses públicos endereçados no caso específico; e (iii) a imprescindibilidade de explicação das razões de atendimento a um interesse público em detrimento dos demais.
Já o princípio da indisponibilidade tem que ser reformulado de modo a expressar a irrenunciabilidade à tutela dos interesses públicos difusos – o que importa dizer: no exercício da função administrativa, o agente público não pode se esquivar de proteger e fazer prevalecer os interesses socialmente hipossuficientes.
Parece-nos fora de dúvida que, diante do colapso da noção singular e monolítica de interesse público, a função de composição e conciliação entre os diversos interesses caberá sempre à esfera pública. Porém, as instituições, os órgãos e os instrumentos disponíveis a esta esfera pública redelineada são bastante diversos daqueles tradicionalmente disponíveis no âmbito do Estado tradicional. E nisso não pode ser entrevista qualquer nuança de sucumbência ou prescindibilidade do Estado.
Tome-se um exemplo específico, com o qual mais adiante nos deteremos. A retirada do Estado da prestação – execução efetiva – de alguns serviços públicos trespassados a particulares mediante o estabelecimento de parcerias ou a outorga de concessões, permissões ou mesmo por meio de autorizações para exploração destes, antes de implicar uma retirada da esfera pública desta área de atividade, importa a necessidade de fortalecimento da atuação pública. Nos dizeres de Sabino Cassese ‘o fato de o governo central se liberar de uma parte de sua atividade reforça aquelas atividades que remanescem’, tornando necessário um ‘governo central capaz de decisões igualmente radicais’.
(…) Se é bem verdade que o Estado não mais presta determinado serviço público, não menos verdadeira é a relevância de sua atividade no controle da qualidade d serviço prestado, na fiscalização e preservação das suas cláusulas de ampliação, de sua universalização e de atendimento aos princípios a ele correlatos (especialmente os princípios da universalidade, atualidade, modicidade tarifária e continuidade da prestação), bem como no arbitramento entre a perspectiva econômica do concessionário e os interesses públicos difusos (v.g. dos usuários do serviço e mesmo da coletividade genericamente tomada, por exemplo, como titular dos bens afetos à concessão, os quais são propriedade de toda a coletividade, porquanto reversíveis ao final da concessão).
[1]BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito de administrativo, cit., p. 59-61.
3. DEBATENDO
Questão prática
A empresa Y era concessionária do serviço público de água e esgoto em uma grande cidade do Brasil. Para fazer frente às obrigações de investimento assumidas nos termos do contrato, a empresa tomou financiamento de longo prazo junto ao BNDES em 2016. Em 2017, a empresa foi envolvida na Lava a Jato e fez acordo de leniência, comprometendo-se a pagar um valor de R$ 300 milhões às autoridades, entre multa e reparação de danos causados, além de reduzir as tarifas de pedágio cobradas. Nos termos do acordo de leniência, a empresa se comprometeu a não pleitear a própria recuperação judicial. Nessa mesma época, a empresa não conseguiu mais obter o desembolso do financiamento contratado junto ao BNDES, em razão de seu envolvimento na Lava a Jato e, com problemas de liquidez, vê-se obrigada a pedir recuperação judicial. O serviço delegado vem sendo prestado a contento. Pergunta-se:
- Se a empresa efetivamente solicitar a recuperação judicial, pode o juízo, se achar que a empresa é viável, determinar ao Ministério Público que não declare o descumprimento do acordo de leniência?
- Algumas parcelas da multa de leniência já estão vencidas e não foram pagas em razão da crise de liquidez da empresa. Esses créditos são concursáveis?
- O juízo da falência pode determinar a revisão da cláusula do acordo de leniência por meio da qual a concessionária se obrigou a reduzir tarifas?
4. APROFUNDANDO
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. Cap. VIII – O Direito Administrativo e o Interesse Público.
BARROSO, Luís Roberto. Prefácio: o Estado contemporâneo, os direitos fundamentais e a redefinição da supremacia do interesse público. In: SARMENTO, Daniel (Org.). Interesses públicos versus interesses privados: desconstruindo a supremacia do interesse público. 2. tir. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. viii-xiv.
GABARDO, Emerson. O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado como fundamento do Direito Administrativo Social. Revista de Investigações Constitucionais, Curitiba, vol. 4, n. 2, p. 95-130, maio/ago. 2017. DOI: 10.5380/rinc.v4i2.53437.
MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Regulação Estatal e Interesses Públicos. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 133-170.
SATIRO, Francisco. Parecer. RJ nº 1019551-68.2018.8.26.0114 (Concessão Aeroporto de Viracopos) – íntegra
Jurisprudência:
TJ-RJ, AI 0010168-32.2018.8.19.0000, rel. Desa. Mônica Maria Costa, j. 18.09.2018.
STJ, Corte Especial, AgInt na SLS 2.433, rel. Min. João Otávio de Noronha, j 5-8-2020, Dje 20-8-2020.
STJ, REsp 1931633/GO, rel. Min. Nacy Andrighi, j. 3.ago.2021.
AgInt na SLS 2.433-RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 05.08.2020
TP-SP, AI 2031082-83.2021.8.26.0000, rel. designado Des. Azuma Nishi, j. 25.out.2023.
Peças processuais:
Decisão interlocutória do juízo de primeira instância proferida nos autos da RJ nº 1019551-68.2018.8.26.0114 (Concessão Aeroporto de Viracopos)
Petição inicial do Agravo de Instrumento nº 227859642021860000 interposto pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo em face de decisão homologando o Plano de Recuperação Judicial da Concessionária Rodovias do Tietê.